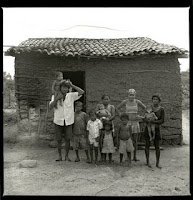O Movimento Militar de 1964 no Brasil foi um produto nacional, feito possível, sobretudo pelo desejo dos segmentos conservadores internos de realizá-lo, não é menos verdadeiro conceber-se o apoio norte-americano ao Movimento como o elemento que lhe deu sustentação e lhe conferiu uma sensação de legitimidade. O artigo, contudo, trata prioritariamente de um condicionante adicional que levou a administração de Lyndon Johnson a apoiar o Movimento Militar de 1964 no Brasil: o preconceito.
A decisão de Washington em apoiar o Movimento fundamentou-se nesse ponto central, comum a cada decisão política norte-americana para a América Latina. Parte de um mind set rígido que já perpassa dois séculos, essa concepção representou a fundamentação máxima para tal apoio, auxiliando no esvaziamento, por mais de duas décadas, do sonho robustecido de justiça social e de liberdade de algumas gerações de brasileiros.
Introdução
“No Hemisfério Ocidental, os EUA detêm um poder
preponderante, econômico e militar, como é do seu dever”
ex-Embaixador norte-americano para o Brasil Adolf Augustus Berle (1962)
Este artigo trata de um motivo adicional que, ainda que não declaradamente, pode ter motivado os EUA a apoiar o Movimento Militar de 1964 no Brasil. O presente trabalho se preocupou em evitar respostas revisionistas, muito freqüentes na literatura sobre as relações dos EUA com a América Latina, que sobrevalorizam a busca de lucro econômico como norteadora-mor de tal iniciativa.
À época, a propagação do comunismo na América Latina é a preocupação central de Washington e o fator máximo que leva os EUA a apoiar o autoritarismo no Brasil e noutros países latino-americanos. O receio norte-americano fica evidenciado nas declarações de Adolf Augustus Berle, o embaixador norte-americano para o Brasil entre 1945/46 que, em 1962, publicou suas impressões sobre a América Latina,
“Estamos vendo agora um grupo de vinte Estados independentes latino-americanos nos quais se fazem esforços para romper a ordem social por forças supostamente revolucionárias que têm ainda de demonstrar capacidade de construir algo de efetivo em lugar das estruturas que destroem, e cuja ênfase é posta no combate aos EUA e no alinhamento com os impérios soviético ou da China Vermelha. O processo destrutivo visa não somente à estabilidade dos próprios Estados, mas à permanência dos acordos entre aqueles Estados – permanência que forma de há muito o núcleo da organização do mundo pan-americano.” (Berle, 1962, p. 21).
Tanto do ponto de vista econômico quanto da segurança interna dos EUA, o apoio ao Movimento Militar de 1964 no Brasil, como aparece acima, nas entrelinhas da assertiva de Berle, representava um mau necessário para aquele país. Ambos aspectos somados, a segurança interna norte-americana e o vigor econômico daquela nação, ainda que de extrema importância para a compreensão do processo, responde a somente uma das pontas do enorme iceberg que norteou a decisão de Washington pró-ditatorialmente. Nosso desafio central neste ensaio é tentar desvendar outro(s) motivo(s) que levou os EUA a bifurcar por este caminho quando além do apoio ao autoritarismo tinham ainda, como forma de extirpar o ‘perigo comunista’, a opção pelo fortalecimento da democracia naqueles países.
A hipótese que sugerimos aqui, como um desses motivos, atende pelo nome de preconceito. Esse sentimento, velho conhecido dos formuladores da política externa norte-americana, está evidencializado ao longo da história das relações externas dos EUA para os povos localizados ao sul do Rio Grande, os chamados latino-americanos. O sentimento norte-americano de inferioridade dos latino-americanos compõe a outra ponta desse enorme iceberg. Ele jogou por terra a oportunidade que a Aliança para o Progresso trouxera para se criar relações inéditas de solidariedade entre os dois países e, por que não dizer, entre os dois subcontinentes.
Nossa hipótese está fundamentada na tese de Lars Schoultz – de que há uma crença norte-americana, cristalizada, na inferioridade latino-americana. Procurando acrescentar à justificativa da necessidade de Washington de proteger sua própria segurança, seu desejo de acomodar as demandas de sua política interna e seu empenho em promover seu próprio desenvolvimento econômico, sustentamos aqui que este preconceito, historicamente cristalizado na mente dos formuladores da política externa norte-americana, foi determinante na decisão de Washington pela via autoritária para a América Latina, particularmente para o Brasil. O preconceito permeou cada medida norte-americana para o Brasil, especialmente no contexto da Guerra Fria.
Ocorria aos EUA que, deixado o Brasil ou qualquer outra nação latino-americana à própria sorte, estes facilmente se apegariam aos comunistas – dado o pressuposto histórico, da inferioridade latino-americana, do qual partem os formuladores da política externa de Washington. Os funcionários norte-americanos, como o diz Schoultz, não concebiam os latino-americanos como ‘capazes de andar com as próprias pernas’. Deixados à própria sorte, a tendência desses povos seria a de ancorar-se nas promessas dos comunistas, como o fizera Cuba menos de cinco anos antes. A opção norte-americana pelos militares se justificava, assim, muito mais pela orientação declaradamente anticomunista deste segmento da sociedade brasileira do que da simpatia de Washington pelos mesmos.
O apoio norte-americano ao autoritarismo na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, impediu os EUA de entender que o elemento subversivo latino-americano, antes de existir por si só, era um subproduto resultante da radicalidade da Doutrina Monroe. A resistência dos nacionalistas latino-americanos às ‘determinações de Washington’, apontavam para a existência de um desgaste no estabelecimento preconceituoso de políticas formuladas ‘de cima para baixo’ que ameaçavam a integridade daqueles povos.
Para compreendermos melhor o papel do preconceito norte-americano para com a América Latina no apoio daquele país ao Movimento Militar de 1964, este ensaio está dividido em três partes, além desta introdução e da conclusão: na primeira delas, é enfatizada a formação e estabelecimento do chamado mind set pelos formuladores da política externa norte-americana para a América Latina. Na segunda parte, de forma a ilustrar o poder de dominação que os EUA têm exercido sobre os povos latino-americanos nos últimos dois séculos, aborda-se importantes passagens na história da formação das políticas externas dos EUA para a América Latina. Por fim, via a análise de textos e declarações diversas que fundamentam nossa hipótese, inserimos a tese de Schoultz num período específico das história, na tentativa ousada de tentar compreendê-lo via a teoria do mind set.
A formação do mind set norte-americano
“São imundas as repúblicas da América do Sul”
Theodore Roosevelt, presidente dos EUA (1904)
Se é fato que o Movimento Militar de 1964 no Brasil se fez possível primeiramente pelo desejo das classes conservadoras internas de realizá-lo, contaminando com sua influência outros segmentos, não é menos verdade que o apoio norte-americano ao Movimento foi o elemento que lhe deu sustentação e lhe conferiu uma sensação de legitimidade. O fator-chave que permeou a decisão de Washington em apoiá-lo foi o preconceito; o sentimento secularmente enraizado na mente dos formuladores da política externa norte-americana de que os latino-americanos não sabem se cuidar sozinhos; o sentimento de que precisam da tutela dos EUA para orientar suas vidas. Fundamentada num mind set rígido que já perpassa duzentos anos, tal concepção representou a fundamentação máxima para tal apoio.
Ao longo de sua obra, Estados Unidos: poder e submissão – uma história da política norte-americana em relação à América Latina, Lars Schoultz defende que a necessidade dos Estados Unidos de proteger sua própria segurança, sua busca em acomodar as demandas de sua política interna e seu empenho em promover seu próprio desenvolvimento econômico, marcou a política externa dos EUA para a América Latina. Schoultz enxerga, contudo, um ingrediente adicional como determinante à essas políticas: o preconceito. Segundo o cientista político, há uma concepção negativa dos americanos, sobretudo dos americanos de que os latino-americanos são povos “naturalmente” inferiores.
O diferencial na interpretação de Schoultz dos fatos expostos na parte introdutória deste artigo está exatamente neste ponto, uma interpretação que, sem negar os objetivos mercantilistas, políticos e de busca de segurança interna dos EUA, busca uma explicação via a teoria do mind set para as relações desse país para com a América Latina. Mind Set significa a existência de uma estrutura mental rígida e cristalizada, geralmente sem fundamento científico, que determina a visão e as decisões de uma pessoa, de um governo ou de toda uma sociedade. Schoultz afirma que existe historicamente por parte dos formuladores da política externa americana, e que se estende para toda a população americana, uma estrutura mental cristalizada, onde se encaixam as concepções sobre a América Latina.
A origem desta crença, na perspectiva de Schoultz, remonta o século XVIII. No período, através do Secretário de Estado norte-americano John Quincy Adams , que viveu de 1767 à 1848 e que viria a tornar-se Presidente dos EUA, estabeleceu-se no Departamento de Estado dos EUA o mind set, uma forma particular de pensar os latino-americanos. Com o trabalho de divulgação desse sentimento por Adams, a América Latina passa a ser entendida como sendo um território composto por povos incapazes ou indispostos à auto-governabilidade. “Havia, sugere Schoultz, a convicção de que um profundo abismo separava o caráter anglo do hispano-americano.” (p. 25) Adams divulgou esse sentimento ao longo da primeira metade do século XIX. Tal sentimento logo passaria a ser compartilhado por outros formuladores da política externa norte-americana para a América Latina, estendendo-se para diversos setores da sociedade civil daquela nação.
Quando das visitas do jovem Adams ao norte da Espanha, onde aprendera via a visão espanhola sobre os latino-americanos, cresceu e ganhou corpo a crença de que, ‘por razões óbvias’, os EUA deviam ter o mínimo de relações com os povos da América Latina., “John Quincy Adams e sua geração tinha”, segundo Schoultz, “preconceitos no sentido estrito da palavra: eles pré-julgavam os católicos como inferiores aos protestantes, os hispânicos aos saxões, os de pele escura aos de pele clara”.[p. 414] Não obstante, “caberia à grande nação do norte proteger os fracos e oprimidos do Sul contra as constantes invasões de europeus.” (p. 25) O paradoxal é que Adams jamais vivera ou visitara quaisquer países da América Latina.
A cristalização do sentimento divulgado por Adams começa a evidenciar-se quando do aparecimento do ‘Destino Manifesto’, uma expressão cunhada pelo jornalista John Louis O’Sullivan em editoriais dos periódicos United States Magazine e Democratic Review da época, apoiando a anexação de parte do território mexicano. “Manifestação de cunho nacionalista”, escreve Schoultz, “o Destino Manifesto supunha que os norte-americanos haviam construído o país a partir de valores superiores e que tinham a missão excelsa de civilizar os territórios considerados bárbaros ou incultos. O destino manifesto foi utilizado por políticos expansionistas de todos os partidos norte-americanos para justificar a anexação de metade do território mexicano, o território do Oregon e o Alasca. Por volta do final do século XIX, a doutrina do Destino Manifesto, foi recuperada para justificar a possível anexação de ilhas do Caribe e do Oceano Atlântico”. (p. 42)
Na análise dos fatos, Schoultz está longe de negar a veracidade das duas interpretações que fundamentam as leituras acima – a explicação “Doutrina Monroe”, onde a ideologia da busca da segurança nacional dos EUA determinará toda a sua política externa para a América Latina, e a explicação “United Fruit Company”, onde a busca de ganhos financeiros é que determinará essa política. “A crença na inferioridade latino-americana é o núcleo essencial da política dos EUA em relação à América Latina, porque ela determina os passos precisos que os EUA assumem para proteger seus interesses na região (...) um mind set sutil mas poderoso que impediu uma política baseada no respeito mútuo” (p. 13) A intenção clara do autor é a de acrescentar esta terceira explicação à compreensão dos determinantes da política externa norte-americana para a América Latina.
Via a análise de documentos escritos por enviados do Departamento de Estado norte-americano da segunda geração, segunda metade do século XIX, Schoultz percebeu que estes funcionários tentavam explicar ao invés de simplesmente descrever o subdesenvolvimento, a instabilidade política e a corrupção da América Latina. O consenso dominante nos escritos desses funcionários, era de que os latino-americanos, considerados como um subproduto da cultura hispânica misturado com o sangue nativo, eram um ramo inferior da espécie humana . “Mesmo onde sangue indígena não havia se misturado com o europeu, como na Argentina”, conclui Schoultz, “os líderes da nação eram considerados fac-símiles dos antigos espanhóis: orgulhosos, fanáticos, bitolados e opressivos: odiando todos os estrangeiros, especialmente os Protestantes. Esta herança espanhola supostamente predispunha os latino-americanos o comportamento irracional.” (p. 96)
Essa espécie de ‘consenso fabricado’, que historicamente tomou como pressuposto básico esta suposta inferioridade dos latino-americanos em relação a outros povos, e que já dura dois séculos, é percebido também por outros autores. Na linha de raciocínio de Schoultz, Azeredo afirma que:
“A história das relações entre os EUA e a América Latina é, na verdade, a história da incompreensão bissecular e das tentativas de superá-la. Desde os albores da independência estadunidense, a visão dos próceres e de seus antecessores está tingida de preconceito, denotando estuante sentimento em que se mesclam atitudes de superioridade e menoscabo (sem fundamentação científica).”(Azeredo, 2000, p. 27)
Mary Junqueira, analisando a obra de Schoultz, comenta que a interpretação do autor sobre o tratamento dado pelos formuladores da política externa norte-americana para a América Latina, ainda que ahistórica, lhe chamou especial atenção pela forma como o autor norte-americano coloca o conflito de representações que permeia o pensamento desses funcionários de Estado:
“(...) enquanto os norte-americanos são descritos como civilizados, protestantes, anglo-saxãos e “brancos”, a América Latina, por sua vez, é desqualificada como católica, latina, mestiça e subdesenvolvida.(... ) esta perspectiva continua a influenciar as ações norte-americanas e tem por objetivo proteger os interesses norte-americanos na região ” (Schoultz, 1998, p. i, Apresentação).
Na interpretação de Junqueira, a tese de Schoultz seria ahistórica por um motivo básico: ela está baseada numa teoria, o mind set. A metodologia de análise dessa teoria, por trabalhar com as ‘representações’, é, por natureza, ahistórica. A teoria do mind set não poderia ser sustentada pelos fatos históricos em si, mas por interpretações aleatórias desses fatos. Esse tipo de análise, tanto sob a perspectiva da análise tradicionalista, quanto revisionista, colide com a tradição historiográfica rígida.
Schoultz, por outro lado, considera ambas perspectivas grandemente importantes para a explicação dos fatos históricos. A proposta de Schoultz, partindo do pressuposto de que tais interpretações podem ser significativamente enriquecidas na explicação dos motivos que levam os agentes históricos a agirem como agem, vai na direção de romper com as limitações quantitativas da primeira e qualitativas da segunda perspectiva. Segundo Schoultz, “quando um funcionário do Departamento de Estado [americano] abre uma reunião com o comentário “temos um problema como governo do Peru”, em menos de um segundo é evocada uma imagem mental de um Estado estrangeiro que é completamente diferente daquela que teria sido lembrada se o funcionário em questão tivesse dito, em contraste, ‘temos um problema com o governo da França”. [p. 14] Nesse sentido, o mind set representaria a introdução de uma forma de interpretação dos fatos que muitas vezes escapa ao historicismo imposto pela ciência histórica.
O mind set é, numa palavra, aquilo que precede o fato em si; ele permeia a construção do pensamento. Ele envolve não somente o contexto no qual o fato será desenvolvido mas ainda toda uma história na qual os agentes históricos construíram suas concepções de mundo. No caso específico dos formuladores da política externa norte-americana para a América Latina, é preciso analisar, para além da defesa de seus interesses comerciais e outros, como é concebido o Outro; quais as ‘supostas fraquezas’ do Outro – como numa luta de boxe – que podem atacar mais vigorosamente de forma a impor-se com mais eficácia e rapidez até atingir seus objetivos todos. Quando o mind set é dessa forma estabelecido, dificilmente se abrem espaços para relações robustas de solidariedade, mas não para relações de conflito e ressentimento de uma das partes. E isso é exatamente o que tem permeado as relações externas entre os EUA e a América Latina.
Schoultz, contrariamente aos formuladores da política externa norte-americana, entende que as razões do subdesenvolvimento latino-americano e suas agruras têm causas muito mais profundas do que aquelas percebidas por esses funcionários. As nações latino-americanas, quando de sua luta sangrenta para libertarem-se de suas metrópoles, estavam extremamente enfraquecidas e fragilizadas. Não somente fora a luta dos latino-americanos infinitamente mais dura que a norte-americana, mas, ao final dessas lutas, as populações civis latino-americanas e suas lideranças estavam completamente sem norte. Este não foi o caso dos EUA que desde o início construiu um Estado relativamente bem estruturado, tanto econômica quanto politicamente.
Aos olhos dos formuladores da política externa norte-americana para a América Latina, no entanto, isso se deveu, ao contrário, à fraqueza dos latino-americanos frente a necessidade de reger seus próprios destinos. Os povos ao sul do Rio Grande, desde muito cedo, são vistos como índios, negros ou crianças, desprotegidos e, principalmente, não civilizados. Os EUA acreditam, então, ter o destino manifesto de trazer para esse lado do mundo uma idéia de civilização. Esse é o pressuposto básico que permearia todas as políticas dos EUA para o continente latino americano desde muito cedo. O que Schoultz coloca em cheque aqui é se o aspecto expansionista e comercial norte-americano – uma espécie de luta por hegemonia na região – seriam suficientes para explicar a decisão de Washington por agir como tem historicamente agido.
Schoultz lembra que muito antes da instalação da Doutrina Monroe, em 2 de dezembro de 1823, os EUA, de Madison e Jefferson, enxergavam a América Latina como um potencial mercado consumidor de sua incipiente produção industrial e produtora daquilo que aos americanos faltasse. Além disso, a América Latina representava uma vasta região para o estabelecimento de uma política expansionista. A ‘Doutrina Monroe’ consolidaria estas pretensões norte-americanas e, por dois séculos, permaneceria como princípio fundamental da política externa dos EUA.
Os aspectos expansionista e comercial foram, pois, determinantes nas tomadas de decisão de Washington. O autor lembra, contudo, que toda tomada de ação pressupõe uma representação que a precede. Esta representação transforma-se assim num pressuposto básico que permeará as atitudes futuras em relação ao alvo em questão. Este pressuposto é, por sua natureza, imaterial. Ele somente materializar-se-á na forma da relação que o agente desenvolver com seu alvo. A agravante, quando da análise de dada situação, é que pressupostos não são muito facilmente verificáveis. Eles precisam ser materializados para serem claramente percebidos e refletidos nos fatos históricos, como é o caso das declarações de várias dos formuladores da política externa norte-americana para a América Latina, como, por exemplo, do próprio Presidente Jefferson, quando da eclosão das guerras por independência da América latina: “o melhor para o continente seria uma “independência parcial” até que estes estivessem prontos a receber uma “independência total”. No ínterim, esses povos receberiam um número grande de informações que os levariam à um estágio maior de desenvolvimento até o ponto de poder se autogovernar.” (Schoultz, 22).
Diante das declarações de Jefferson, concluímos que aspectos comerciais e quaisquer outros que possam ter sido determinantes na análise da história das relações externas dos EUA para a América Latina, não seriam considerados na sua totalidade se excluíssem fatores outros que têm permeado estas relações – mas que nem sempre podem ser explicados com os instrumentos de análise da metodologia histórica tradicional – por exemplo, o preconceito. Compreender os valores que regem os formuladores da política interna norte-americana, longe da teoria do mind set, talvez se faça possível. Como o diz Parker:
“Há valores expressados na formação dos EUA e sustentados nos grandes momentos de sua história, que afirmam o necessário respeito pelo mérito e dignidade do homem como um meio de reger a sociedade. Esses valores compreendem idéias de justiça, igualdade e livre arbítrio, cada uma delas defendida como um direito humano inviolável. Os homens que criaram, os EUA presumiram que a proteção desses valores era um meio eficaz e racional de definir as funções de uma nação”.(Parker, 1977, int.)
A compreensão da completude de tais valores, contudo, quando se trata de política externa (particularmente para a América Latina), considerada fora da teoria do mind set, se faz mais complicada. Schoultz talvez tenha encontrado uma forma – menos científica mas não por isso menos crível – de se analisar fenômenos históricos como este. Na conclusão (não fundamentada na teoria do mind set) de Parker:
No entanto, o confronto entre tais valores e a política externa adotada pelos EUA é desconcertante. O programa de ação norte-americano parece estruturado para beneficiar os EUA – política, econômica e militarmente – mas, ao que tudo indica, sem maior consideração pelo impacto de seus empreendimentos sobre a integridade das instituições de outros povos. Segundo esse critério, os direitos reivindicados pela Declaração de Independência soam cada vez mais como princípios que se aplicam somente aos EUA e seus cidadãos e freqüentemente à custa do sacrifício desses mesmos direitos em outras nações.” (Parker, 1977, int.)
Os países da América Latina, dada a histórica assimetria de poder que apresentam os negociadores, tendem a encarar perdas permanentes na mesa de negociações com os EUA. E não poderia ser de outra forma, vista tais negociações estarem previamente contaminadas por esse preconceito, o resultado de quaisquer negociações dos EUA com a América Latina nada mais pode representar que um jogo onde os EUA pensam poder decidir unilateralmente pelos destinos de seus vizinhos latino-americanos. As relações de solidariedade praticamente inexistem e quando ameaçam despontar no horizonte, são historicamente sufocadas em nome de interesses mercantilistas e políticos.
A relação do Movimento de 1964 no Brasil com o que argumentamos acima representa exatamente o cerne da razão que levará os EUA a apoiar a decisão dos militares brasileiros pela supressão do estado de direito. As relações assimétricas dos EUA com seus vizinhos latino-americanos já era muito evidente neste período. Este país já havia intervindo política, militar ou economicamente em praticamente todos os países latino-americanos e caribenhos. “Os Estados Unidos”, garante Chomsky, “estão dispostos a tolerar reformas sociais como na Costa Rica, por exemplo, somente quando são eliminados os direitos dos trabalhadores e preservadas as condições para os investimentos estrangeiros. Devido ao governo da Costa Rica ter sempre respeitado esses dois princípios imperativos é que o deixam seguir com suas reformas” (p. 25) O Embaixador americano para o Brasil, tentou por vezes , como veremos a seguir, ditar os rumos da política brasileira junto ao Presidente da República, João Goulart. Há muito, contudo, já se fizera amigo de setores militares diversos da sociedade brasileira, dentre os quais conservadores e até progressistas, e com eles acompanhava de perto cada passo do Governo Trabalhista da época na aplicação das reformas que esse governo se comprometera fazer.
O elemento fundamental da motivação ao Movimento de 1964 parece ter sido o reacionarismo dos setores privilegiados da própria sociedade brasileira – que se apresentavam como liberais ao modo norte-americano –, temerosos do alcance social das reformas de base que prometiam por um fim a seus privilégios. Inobstante, o apoio norte-americano ao Movimento, dada a importância desse país no cenário internacional, foi de singular importância para a concretização do mesmo. Esse apoio deu um sentimento de legitimidade aos militares para agir. Do ponto de vista de Washington, entretanto, o apoio dos EUA fazia parte de uma série de lances estratégicos de Washington para estabelecer controle sobre as instituições da América Latina.
O diferencial e paradoxal do pensamento norte-americano sobre a América Latina, ao contrário do que pensava aquele país sobre a Europa, estava justamente em acreditar que a promoção de autoritarismos neste continente, poderia promover, como extensão, a democracia e o liberalismo econômico. A motivação do apoio estadunidense ao Movimento, era, pois, um fim em si mesmo, sobrepondo-se aos legítimos anseios da sociedade brasileira. A promoção maquiavélica da democracia e do liberalismo econômico, valores máximos da política interna dos EUA, deveria se estender aos seus vizinhos latino-americanos, independentemente dos meios usados para se atingir tal fim.
Como o diz Schoultz, a formação profissional e moral dos funcionários do Estado norte-americano parece já vir carregada de preconceitos (p. 25). Ao tentar guiar os passos dos governantes brasileiros, sob pena de estes ‘se perderem’, esses funcionários dão provas dessa formação preconceituosa que os caracteriza. Este sentimento permeava as concepções de mundo do embaixador americano, o ucraniano Lincoln Gordon, e seu departamento. O Mind Set estabelecera historicamente que a América Latina nada mais era que uma criança em processo de aprendizado que, sob pena de degenerar-se, precisava ser guiada pelo caminho, as vezes tortuosos, da civilização saxã norte-americana, até atingir a maioridade.
É difícil, pois, imaginar-se que a construção de tal concepção, na cabeça de Lincoln Gordon e seus correligionários, não tenha partido de um entendimento da América Latina como sendo um grupo de povos que não conseguia ‘andar com as próprias pernas’. Os formuladores da política externa norte-americana para o Brasil do período não fugiram à regra. Se outros países na América Latina já haviam experimentado doses do ‘processo civilizatório’ norte-americano e outros estavam por fazê-lo, de forma a corrigir suas deformidades, esta era a vez do Brasil.
Dados os contextos internacional e interno brasileiros, o governo de Goulart poderia, segundo a concepção dos formuladores da política externa americana para a América Latina – especialmente de Lincoln Gordon que a analisava de perto e com especial atenção – descambar facilmente para a extrema esquerda e aliar-se aos comunistas. Segundo o mind set estabelecido, tratava-se de um governo fraco, que administrava um povo inferior aos saxões, cuja crença no liberalismo econômico e na democracia eram instáveis e que, a exemplo de Cuba, poderiam se perder na ilusão de que o comunismo lhes daria melhores condições de vida. A excessiva preocupação com a ordem na aplicação das reformas do Governo Goulart é evidência deste preconceito.
Muito embora não acreditassem na superioridade dos militares que tomaram efetivamente o poder em 1964 – estes também tinham um histórico de inferioridade latina em seu sangue –, os formuladores da política externa dos EUA entendiam que estes se mostravam radicalmente anticomunistas, ao contrário do governo de Jango, e, por isso, na falta de uma opção mais digerível, tornaram-se simpáticos aos militares. Dois anos antes, Berle, o então embaixador norte-americano para o Brasil, já havia declarado que “o exército [brasileiro] tem sido acusado injustamente de fascismo por se opor a Goulart ”. [p. 27] Na mesma oportunidade afirmaria Berle que, “em muitos países latino-americanos o governo dos EUA é quase invariavelmente solicitado por um ou por outro grupo político a ajudar a sua causa”.[p. 5]
Assim, os EUA, orientados por seu Departamento de Estado, acabaram por apoiar os militares na transformação do Brasil numa ditadura. Essa ditadura – que perduraria por mais de vinte anos, auto-proclamando salvacionista e pregando um retorno rápido ao Estado Democrático de Direito – degenerou-se, tornando-se sangrenta. Como extensão, desnaturou para a obnubilação da consciência política de duas gerações de brasileiros, amputando, já no início dos anos sessenta, a utopia nacionalista de se transformar o Brasil num país verdadeiramente soberano.
Um histórico de relações de dominação e preconceito
“Os Estados Unidos consideram seus próprios interesses.
A integridade das outras nações é um mero acidente, não um fim”
William Jennings Bryan, Secretário de Estado de Woodrow Wilson (1918)
No decorrer do século XIX, os EUA, ao procurar garantir seus mercados consumidores potenciais e despontar como potência militar regional, envolveram-se em disputas sangrentas no Peru, Chile, Venezuela, Cuba, Colômbia, Panamá, Republica Dominicana, Haiti e Nicarágua, e saíram vitoriosos de todos esses conflitos. À medida que impunham a Doutrina Monroe nas Américas, como forma de extirpar o poder comercial e militar europeu nesta região e organizar comercial e politicamente as sociedades americanas, os EUA estabelecem relações assimétricas de poder, tanto com os derrotados quanto com os aliados. Como esses conflitos estiveram de uma ou de outra forma relacionados ao grau de liberdade econômica e política com que os povos dos países envolvidos podiam dispor, os EUA despontam, paradoxalmente, como força hegemônica regional salvadora desses povos, por um lado, e, por outro, como força hegemônica regional algoz desses mesmos povos.
Ao norte do Rio Grande, o tipo de política externa imposta pelos EUA à seus vizinhos pode ter reforçado o sentimento inicial de superioridade desta nação frente aos povos latino-americanos e caribenhos. Ao Sul do Rio Grande, contudo, as investidas históricas e constantes dos norte-americanos contra seus vizinhos latinos gerará um sentimento confuso de paixão e ódio, que atravessará os séculos e que ganhará este ou aquele formato segundo o momento histórico. Enquanto o sentimento de ódio fica mais evidente nos momentos históricos em que os EUA se valem da força bruta para realizar seus objetivos na América Latina, como é o caso da política do Big Stick, o sentimento de amor vai desaparecendo.
À medida que as nações latino-americanas vão-se dando conta do preconceito que permeia as políticas externas de Washington para este subcontinente, um furor histórico de anti-americanismo se faz mais presente. O sentimento preconceituoso norte-americano é contrabalançado com o sentimento de ódio dos latino-americanos por seus irmãos do norte. Esse preconceito norte-americano para com a América Latina ficou evidenciado, no decorrer do século XIX, de várias formas, mas a mais comum delas foi via as tentativas norte-americanas de potencializar suas demandas comerciais na América Latina com políticas truculentas, exercidas ‘de cima para baixo’, e de intervenção ou exercício de influência na política interna desses países.
No século seguinte, dada a confluência do contexto histórico com os desejos imperialistas norte-americanos de realizar seu almejado tripé: a acomodação de suas demandas internas, a garantia de sua segurança interna e a realização de seus interesses comerciais na América Latina (dos preceitos da Doutrina Monroe), ocorre uma mudança de rumos da política externa norte-americana para a América Latina. Percebendo a presença cada vez mais constante desse anti-americanismo e considerando o contexto internacional, os EUA passam a repensar suas políticas para a América Latina e introduzem, assim, formas menos brutais de fazer política com a América Latina. A primeira e a segunda delas, conhecidas como Diplomacia do Dólar e Boa Vizinhança (essa segunda com estímulo à democracia), contudo, não são capazes de substituir o sentimento do ódio latino-americano pelo de amor aos norte-americanos.
Muitas vezes mais implícito que explícito, esse sentimento de ódio irá transcorrer todo o século XIX, robustecendo-se a partir do pós-1ª Guerra Mundial, quando os EUA passam da política de ‘Boa Vizinhança’ à uma nova era, de apoio aos governos fortes. O motivo da mudança de posição norte-americana era, segundo artigo do Funcionário do Departamento de Estado norte-americano Louis Halle, na Foreign Affairs (1950), “a incapacidade da região, por sua imaturidade, intemperança, intransigência e o culto aos homens fortes, em tornar-se democrática.” (Schoultz, p. 117)
As palavras de Halle já são evidência do preconceito norte-americano em relação aos latino-americanos, mas o fato é que, até os anos 50 do século XX, longe das fronteiras da comunista União Soviética pós-Guerra, a América Latina há muito não representava verdadeiramente uma ameaça aos EUA e, portanto, não demandava muita atenção. É neste momento que o sentimento de ódio dos latino-americanos pelos norte-americanos começa a se transformar em amor pelos dogmas comunistas, que aparentemente se opunham à truculência ou arrogância de Washington. Somente no início dos anos sessenta, via a criação da Aliança para o Progresso, quando o contexto internacional toma contornos aparentemente irreversíveis, é que os EUA prometem finalmente dialogar com seus vizinhos do sul.
O método norte-americano de apoio a governos não-democráticos – nesse contexto, que garantissem a não proliferação das idéias comunistas na região –, contudo, não será alterado. O caso da Guatemala em 1954 deixa bem clara a posição norte-americana, de invasão armada, na ‘nova-velha investida de sua política externa para a América Latina’. A invasão justificou-se pelo temor dos Funcionários do Departamento de Estado de que uma base (comunista), sobretudo européia, objetivando atingir os EUA, pudesse se instalar na América Latina. Impedindo irrupções revolucionárias, os ‘ditadores amistosos’ ajudariam, mais uma vez, os EUA com sua política externa para a América Latina. Os EUA defenderiam os interesses desses ditadores em troca de sua colaboração no impedimento da proliferação das idéias comunistas na região, causando o empobrecimento econômico e gerando uma repressão política brutal no seio da sociedade civil da região. Como extensão das arbitrariedades norte-americanas se assiste ao recrusdecimento do sentimento anti-americano na região.
Dada a percepção norte-americana dessa realidade, o que se assiste a partir de então é os EUA redirecionando sua política externa para um duplo caminho, de desenvolvimento econômico com estabilidade política. “Nas décadas de 1950 e 1960”, garante Huggins, “os programas de desenvolvimento econômico foram os mecanismos e a máscara [usados pelos EUA] para conseguir o controle da polícia e outros sistemas de segurança interna latino-americanos.” (p.15) Da mesma forma, a Aliança para o Progresso, colocada em pratica pelo governo de John F. Kennedy, que poderia ter significado um marco nas relações dos dois subcontinentes, longe está (em função do que viria a resultar) de escapar à defesa dos interesses particulares dos EUA. Tais interesses, ao contrário, nunca estiveram tão evidentes.
O crescente movimento nacionalista e estatista latino-americano, promovido em grande parte pelo Governo Brasileiro, desagradava grandemente a Washington. Contrariado, o Departamento de Estado norte-americano, interessado em promover uma forte reação liberalizante em toda América Latina, preferencialmente com capital privado norte-americano, entendia como uma afronta às suas pretensões a atitude do Itamaraty. “Os países que tentaram inverter as regras, como a Guatemala, sob os governos capitalistas democráticos de Arévalo e Arbenz, ou a República Dominicana, sob o regime capitalista democrático de Bosch”, garante Chomsky, “tornaram-se alvo da hostilidade e da violência dos Estados Unidos.” (p. 39) Para evitar que a América Latina seguisse o exemplo cubano, a promoção do desenvolvimento econômico latino-americano e a admissão de formas diversas de repressão policial e política, tornar-se-iam uma obsessão para Washington a partir do início da administração Kennedy.
Era o momento de os EUA fazer meã-culpa pelo sentimento antiamericano dos latino-americano. Esta realidade permitirá que a administração Kennedy, desenvolva uma política bifurcada que tentaria promover significativos avanços econômicos mantendo a estabilidade política da região latino-americana. Era tempo de tentar reverter o sentimento de ódio das gentes latino-americanas pela promoção de laços mais íntimos, pela associação do governo norte-americano com o grande desejo latino-americano de uma vida melhor. Constavam da Carta da Aliança para o Progresso, assinada no Uruguai em 1961: necessidade de crescimento e diversificação econômicos; necessidade de distribuição mais eqüitativa da renda; necessidade de eliminação do analfabetismo dos adultos até 1970; necessidade de acesso a seis anos de educação para todas as crianças; necessidade de melhoria de saúde pública; necessidade de ampliação as moradias de baixo custo; necessidade de fortalecimento da integração econômica regional com vistas a um mercado comum latino-americano. [ver discurso de Kennedy - in Parker]
O tipo de desenvolvimento, contudo, foi, segundo Chomsky, “imposto e direcionado, em sua maior parte, para as necessidades dos investidores norte-americanos. A Aliança fortificou e ampliou o sistema vigente, pelo qual os latino-americanos produzem colheitas para exportação e reduzem as colheitas de subsistência (...). Esse modelo agroexportativo de desenvolvimento, em geral, produz um “milagre econômico” onde o PNB; Produto Nacional Bruto; sobe, enquanto a maioria da população morre de fome. (...).” (p. 38) “As políticas de ajuda financeira dos EUA para a AL”, de acordo com Parker, “têm geralmente uma conotação política. Elas pressupõe, como o foi a Aliança para o Progresso, de Kennedy e levada a cabo por ser sucessor, um enfraquecimento ou fortalecimento dos governos centrais para manipulá-los segundo os próprios interesses de Washington, e com o Brasil no início da década não foi diferente. Os incentivos econômicos provenientes de Washington apareciam ou desapareciam da mesa de negociações com Goulart, segundo as promessas e garantias de movimentação política, nesta ou naquela direção, que este pudesse fornecer aos estrategistas norte-americanos.” (p. 129)
A força das oligarquias e de governos populistas latino-americanos, contudo, consideradas por Washington como sendo intransigentes e egoístas, transformar-se-iam num entrave às pretensões dos EUA. A opção pois, dos EUA, é de cuidar pela estabilidade política daqueles países primeiramente e, somente então, por sua estabilidade econômica. Assim, o apoio norte-americano à ditaduras na América Latina, declaradamente ou não, tornar-se-iam uma praxe na política externa dos EUA. As ajudas financeiras e logísticas, os programas assistencialistas e o apoio à deposição de governos legítimos e composição de governos ditatoriais, como nos casos da Guatemala, da Nicarágua, da República Dominicana, do Brasil, do Chile, e inúmeros outros países latino-americanos, ilustram bem a mudança da política de Boa Vizinhança dos EUA, vigente até finais da Segunda Grande Guerra.
A ajuda econômica e o apoio político provenientes de Washington, conforme veremos a seguir, estariam, a partir de então, condicionadas à aceitação de reformas internas impostas pelos EUA. Esses auxílios chegariam como uma extensão dessa afinação, caso contrário, a nação em questão, e o Brasil de Jango é ilustrativo disso, sofreria sanções econômicas que desestabilizariam suas metas de desenvolvimento autônomo. “A diminuição do auxílio financeiro, tecnológico e militar dos EUA para o Brasil”, garante Hilton, analisando o caso particular do Brasil, “brotou uma crise nas relações do dois países, ao longo dos anos 50, que levou o Brasil a divergir dos EUA quanto a suas prioridades internas e o conceito de segurança para o hemisfério. Enquanto o Itamaraty insistia em usar na industrialização os recursos externos que supostamente deveriam desembarcar no Rio de Janeiro, Washington, temeroso do perigo vermelho, enfatizava a necessidade de seu uso no aparato militar”.(p.68)
Assim ficaria marcada a política externa dos EUA para a América Latina desde a primeira metade da década de 50 até os anos 80, quando mudam as demandas norte-americanas. Durante o período, os EUA não dariam espaço para que o sentimento de ódio latino-americano por aquele país fosse minimizado, mas, ao contrário, exacerbado. Governos de cunho aparentemente nacionalistas retornariam ao poder ao final dos anos 90 na América do Sul, obstaculizando o desejo de Washington de ver os três subcontinentes, Norte, Centro e Sul, unificados sob sua liderança.
Do ponto de vista cultural e econômico, contudo, a influência norte-americana no subcontinente latino-americano, permaneceria inalterada ou aumentaria grandemente em função de décadas de relações assimétricas de poder. O mesmo, todavia, não ocorria na questão política. Resta saber se o enfraquecimento da influência política norte-americana na América Latina tende a levar Washington a decidir novamente por medidas truculentas e arrogantes, como as que auxiliaram na efetiva deposição do Presidente Goulart no último dia do mês de março de1964.
*******
A negação do Estado de Direito representada pelo movimento militar de 1964, adiaria por décadas um projeto nacional de consolidação da democracia no Brasil. O rompimento da ordem constitucional no Brasil nos anos sessenta, contudo, representou mais que a suspensão dos direitos políticos de seus cidadãos. Embora adolescente, a democracia brasileira que se estava criando, fundamentava-se no direito asectário às riquezas do território e da produção brasileiros para seus nacionais. No plano interno, a podadura de um paradigma que poderia dirigir a desequilibrada nação brasileira à condição de Estado de Bem-Estar Social – similar às social-democracias européias – vai degenerar para o caos, levando a então oitava maior economia do planeta à condição de sexto país mais desigual do mundo na década de 90.
No plano externo, o Brasil janguista, que violava a Doutrina Monroe vigente então no continente por cento e quarenta anos , preparava o quinto maior país da terra para despontar como potência regional. A violação à Doutrina Monroe se dava no sentido de que aos americanos ocorria que os princípios desta doutrina longe estavam de se ter esvaziado. As políticas externas norte-americanas para a América Latina, conforme apontado anteriormente, mudaram com o tempo, desde princípios do século XIX. A essência da Doutrina Monroe, contudo, permanecia inalterada. Os fundamentos dessa doutrina, que pressupunha estar o continente americano predestinado a ser administrado pelos americanos, sem interferência de outros povos, também fazia parte do mind set oficial de Washington e, por vezes, da própria sociedade civil. Por isso mesmo a essência da Doutrina Monroe permanecia viva. A ousadia do governo brasileiro de então, com sua política externa autônoma e interna esquerdizante, representava uma afronta aos princípios dessa doutrina.
As estratégias de ação do governo brasileiro da época, de desenvolvimento social e econômico, desatadas das investidas históricas de controle norte-americano (pelo menos na cabeça dos formuladores da política externa norte-americana), colidiam com as seculares pretensões hegemônicas de Washington, vigentes desde a implantação da Doutrina Monroe. “Desde 1930 até meados da década de 70”, escreve Petras (e que usamos para exemplificar bem o caso brasileiro de Goulart), “o imperialismo norte-americano na América Latina foi constantemente desafiado por regimes e movimentos nacionalistas, populistas e social-democratas. Esses desafios foram geralmente reformistas antes que revolucionários, visto que questionavam elementos do projeto imperialista mas não todo o conjunto de relações e o sistema posto no lugar.” (p. 25) No Brasil, em particular, esse desafio à Washington, do qual fala Petras, fica mais evidenciado a partir da década de 50 e agrava-se profundamente no Governo João Goulart, fortalecendo o sentimento norte-americano pró-Movimento. O fato é que a condição de subserviência do Brasil oligarca, pré-1930, não coincidia com as expectativas do Brasil industrial, pós-1930, e esta nova condição colidia com os interesses norte-americanos.
É a partir de 1932, no primeiro Governo Vargas, quando da recuperação do Brasil da crise do capitalismo de 1929, que o país inicia uma fase de crescimento industrial ininterrupto até 1962, crescendo a uma taxa média anual de 10%, que chegou a representar a maior taxa de crescimento do planeta. O Brasil despontava como potência econômica global e ensaiava os passos para tornar-se, ao lado dos EUA e da Argentina, uma potência regional. O quadro abaixo, referente ao crescimento do PIB por habitante no Brasil, no período que precede a crise de 1929 e segue até o final do século XX, é bastante ilustrativo da força da industrialização brasileira no período:
CRESCIMENTO DO PIB POR HABITANTE 1913/1998
País/Região Períodos
1913/1950 1950/1973 1973/1990 1990/1998
Estados Unidos 76,7% 74,1% 38,2% 17,0%
América Latina 69,0% 77,4% 11,6% 14,6%
Brasil 174,4% 173,0% 27,9% 10,0%
Fonte: Cepal 2002
Fonte: CEPAL 2002
Não obstante, de acordo com Singer (p. 217), com mais de 80% das exportações do país correspondentes a produtos primários, a industrialização brasileira no período, sobretudo a partir de 1939, é substitutiva de importações, e seus produtos não são competitivos no mercado internacional. De qualquer forma, o aprofundamento da industrialização pressupunha uma necessidade crescente de importação de tecnologia, bens de capital e insumos, que ultrapassava a capacidade de financiamento originário das exportações e cuja solução encontrava-se em fontes externas de financiamento, sobretudo dos capitais estatal e privado norte-americanos. Nem mesmo a onda nacionalizante do segundo Governo de Getúlio Vargas (1954-1956) foi capaz de barrar significativamente o fluxo de capitais estrangeiros para o Brasil naquele momento, tamanho era o potencial deste país. A indústria nacional torna-se, assim, extremamente dependente do capital externo de curto e de longo prazos, expondo sua fragilidade.
Até o período, os EUA consideravam o Brasil, contrariamente à como enxergavam a Argentina, como um aliado tradicional, e esse sentimento era, em certa medida, recíproco. O Brasil não somente havia ajudado os EUA durante a Guerra com o fornecimento de produtos a preços controlados, como havia participado diretamente da fase final do conflito ao lado dos EUA. Além disso, o Brasil era visto pelos EUA, como um contrapeso ideal à ‘rebelde’ Argentina que insistia numa política externa menos atrelada aos desejos de Washington. Por seu lado, os governos brasileiros que se seguiram após a Segunda Guerra, faziam das ajudas econômicas norte-americanas a contrapartida ideal por sua atitude de aliado preferencial.
Ocorre que na segunda metade da década de 50, os recursos públicos advindos dos EUA são drasticamente reduzidos. Os formuladores da política externa brasileira, então, passam a entender a atitude de Washington como uma forma de traição à relação de 'aliado preferencial’. Esses recursos eram imprescindíveis ao processo de industrialização que imprimia-se no Brasil de então. Os governantes brasileiros são obrigados, assim, a buscar outras zonas de influência para financiar os recursos vitais de que necessitava a indústria nacional.
Os fluxos financeiros advindos do exterior, contudo, endividariam o Brasil de forma jamais vista na história desse país. De acordo com Singer (p. 219), o governo de Kubitschek (1956-1961) deixaria para seus sucessores, Jânio Quadros e João Goulart, uma herança pesada no que diz respeito tanto ao déficit interno quanto ao déficit do país com credores externos (FMI): um terço da receita para o orçamento de 1961, além de uma inflação galopante que desagradava diversos setores da população e da classe política interna. O fato é que o próximo governo eleito teria de colocar a casa em ordem do ponto de vista econômico, social e, então, político, mas sem recursos financeiros para tal.
Numa conjuntura política que apresentava sinais crescentes de instabilidade, em função da decisão do então presidente Jânio Quadros (1961) de adotar uma política externa independente (não alinhada necessariamente com os EUA) e de sua posterior renúncia, os capitais externos já não chegam ao Brasil com a mesma espontaneidade que se vira nos governos anteriores. Isso vai comprometer os investimentos industriais do país, atividade econômica máxima no período. Com a ênfase do sucessor de Quadros, Goulart, numa política externa independente, os EUA bloqueiam créditos externos que podiam ser destinados a financiar o balanço de pagamentos do país, autorizando, a partir da administração Johnson (que não mais condicionará a ajuda externa à existência de governos eleitos), a embaixada norte-americana passa a assinar acordos separados com governadores e prefeitos (ver Bandeira, 1989, cap. IV). A variação dos empréstimos apresentada na tabela abaixo nos ajuda a contextualizar o momento histórico e melhor compreender a prática de Washington antes e depois do Movimento de 1964:
Ano Despesas (Empréstimos) em milhões de
dólares da Agência para o Desenvolvimento Internacional
1962 81,8
1963 38,7
1964 15,1
1965 122,1
1966 129,3
fonte: Magdoff, 1979
Com o endurecimento paulatino da posição dos EUA em relação ao governo brasileiro, os capitais externos tornam-se ainda mais escassos para o governo federal, gerando uma crise político-econômica interna de proporções gigantescas. A atitude norte-americana significava, na prática, embora não seja explicitamente defendida, uma forma de financiar os adversários políticos do Presidente Goulart. Os EUA não deixaram à Goulart muitas alternativas que não a subversão . O contexto mundial de uma realidade bipolarizada, contudo, anunciaria em breve que tentativas de desenvolvimento econômico e social alternativas, não necessariamente alinhadas com quaisquer dos blocos em conflito ideológico, mostrar-se-iam inviabilizadas.
Dois anos antes do Movimento, Berle, ex-Embaixador norte-americano para o Brasil, escrevera, “a Guerra Fria atingiu já o Brasil, embora de forma ainda não aberta. Agindo com a técnica da “frente unida, a propaganda comunista decidiu usar o “nacionalismo” como máscara, uma fórmula clássica leninista”. [p. 28] A firmação de Berle mostrava o quão radical eram os norte-americanos na concepção do que representava a luta de Goulart por um Brasil soberano. A declaração do ex-Embaixador norte-americano para o Brasil representava um prelúdio do que viria a acontecer.
Sob a influência dos EUA por mais de uma centena de anos, os países da América Latina e Caribe, segundo a concepção de mundo dos formuladores da política externa de Washington para a região, tinham a obrigação moral de acatar as determinações daquele país para estes. Sob pena de sofrerem desde sérias retaliações políticas ou econômicas, como foi o caso do Brasil janguista no período de 1961/62/63, até intervenção militar, como seria o caso do Brasil em 1964, a região tinha que seguir os mandamentos de Washington.
O caso de Cuba é bastante ilustrativo desse mind set norte-americano que permanece inalterado até os dias atuais. Mais adiante em suas ‘impressões do que deveria ser feito na América Latina e no Brasil em particular’, Berle, aquele antigo embaixador dos EUA para o Brasil no pós-Guerra, assegura que,
“Normalmente, as chancelarias dos Estados americanos, incluindo-se os EUA, não tomam posições a respeito de assuntos políticos internos de seus vizinhos. (...) Mas, na atual contingência, torna-se extremamente difícil seguir a regra. Em muitos, talvez na maioria dos países latino-americanos, há um partido ou grupo de partidos franca ou ocultamente comunistas, cujas atividades ou manifestações são abertamente dirigidas contra os EUA e seus amigos. Na prática, o direito de os EUA existirem é presentemente um dos pontos, sob certo aspecto, de quase todas as campanhas políticas latino-americanas. Atualmente, esta espécie de atividade política local está em ponto alto. As Embaixadas dos EUA não podem ignorar este fato, nem se deve esperar que elas o ignorem. Ignorar tais circunstâncias é impossível”. [Berle, 1962, p.93]
Na esteira de Berle, os EUA era menos simpáticos ao Presidente Jango, a seu governo e à sua forma de fazer política que às políticas reformistas destes propriamente ditas. Como mostramos acima, Washington, quando da formulação de suas políticas para a América Latina, parte do pressuposto de que os governos latino-americanos devem ser subservientes às prerrogativas norte-americanas, sentimento evidenciado nas entrelinhas da Doutrina Monroe. Desta feita, os EUA não poderiam conceber de outra forma senão como subversivas as medidas anunciadas pelo Governo Trabalhista brasileiro no período de 1961 a 1964. A antipatia norte-americana, no contexto da Guerra Fria, era muito menos pelas Medidas de Goulart do que por quem as comandava. Daí, sua simpatia pelo esfacelamento do governo de Goulart e o apoio, desde muito cedo, à um outro projeto político para o Brasil. “Os papéis do Estado-Maior Conjunto norte-americano, afirma Corrêa, revelam que, nos dias da queda do Governo Goulart, os EUA tinham um plano de emergência pronto para influenciar os acontecimentos no Brasil.” (p. 18) “O Governo Kennedy”, afirma Chomsky na mesma linha, “preparou o caminho para o Golpe Militar no Brasil em 1964, ajudando a derrubar a democracia brasileira, que se estava tornando independente demais (...)”. [p. 40]
Para além das dificuldades internas, foi determinante, pois, a influência dos EUA na supressão do Estado de Direito no Brasil. Uma democracia adolescente que não passaria à maioridade, o Brasil janguista não conseguiu suportar o peso da pressão externa de Washington que teimava em manipulá-lo das mais variadas formas. “As atividades dos EUA”, segundo Parker, “abrangeram desde manipulações e sanções econômicas e políticas até apoio militar para a destituição do Presidente brasileiro. Esse golpe efetuou a substituição da democracia incompleta do Brasil por um Governo militar autoritário. O Embaixador Lincoln Gordon e outros altos funcionários norte-americanos sugeriram que a deposição de Goulart salvara a democracia no Brasil por contrapor-se aos crescentes elementos subversivos do Governo e da sociedade e por impedir que Goulart executasse o seu próprio golpe esquerdista a fim de obter poderes ditatoriais”. (p. 11)
Foi, contudo, aquele sentimento da inferioridade dos latino-americanos, do qual falava Schoultz, instilado pelos formuladores da política externa de Washington, para além de seus interesses comerciais, políticos e de sua segurança, que permeou a decisão norte-americana de aliar-se ao Movimento Militar de 1964 no Brasil. “(...) no Brasil”, garante Parker “o Embaixador, os adidos militares da inteligência e os chefes dos Consulados norte-americanos desempenharam papel fundamental na formulação da política dos EUA.” (p. 28). Verificamos, pois, que foi significativa a atuação da embaixada norte-americana no combate político ao governo constitucional de João Goulart. Ainda que o Movimento longe esteja de ter começado em Washington e de ter tido a CIA por detrás de tudo, o apoio dos EUA aos conspiradores, guiados pela concepção de mundo dos formuladores da política externa de Washington, foi determinante para a ruptura do sistema democrático. Dois anos antes do Movimento, Berle, o ex-Embaixador norte-americano para o Brasil, já afirmara que “a transformação social, no contexto da América Latina, envolve a possibilidade, talvez a probabilidade, de que novos governos sejam estabelecidos por revolução. Estes governos podem ir além da simples mudança de administração à alteração do sistema social do país. Devemos prever que, em alguns países, os sistemas sociais surgirão ou serão impostos de maneira bem diversa daquela a que estamos habituados”. [p. 32] “seria preferível”, conclui Berle, “antecipar-se aos acontecimentos do que esperar que eles se verifiquem. A política mais arriscada seria a de esperar pelas crises e depois ver o que poderia ser feito”. [p. 39]
As palavras de Berle parecem querer avalizar a política externa norte-americana no sentido de desestabilizar o governo de Goulart para que outro, afinado com as propostas de Washington, pudesse ser estabelecido. A exemplo de Berle, “tal era a intervenção do seu embaixador, Lincoln Gordon (assíduo freqüentador do palácio presidencial que sucedera a Berle), nos assuntos de exclusivo interesse do governo brasileiro”, escreve Navarro de Toledo, “que o mesmo sugeria nomes para compor os Ministérios, censurava as escolhas de “esquerdistas” para as assessorias do presidente, criticava abertamente projetos e iniciativas governamentais. ( )... Entidades políticas e sindicais que faziam sistemática oposição a Goulart foram generosamente contempladas com recursos financeiros do governo norte-americano. Tudo que visava a minar o poder do Executivo federal era incentivado pelos EUA.” (p. 107)
Muito embora as posições de Navarro de Toledo e de Parker pareçam conflitantes, elas não o são. As indicações de nomes por Gordon para o ministério janguista, nem sempre foram atendidas pelo Presidente. Além disso, as permanentes visitas do embaixador americano ao palácio presidencial tratava-se de um jogo diplomático onde nenhuma das partes, na prática, estava convencida das boas intenções da outra. Na interpretação do diplomata americano Berle, da política brasileira, “ a regra de não-interferência [em assuntos de países latino-americanos] deve ser a política predominante. Mas essa orientação dificilmente pode ser mantida quando o país latino-americano for incapaz de impedir – ou para proteger a liberdade de palavra não puder fazê-lo – que potências extra-continentais se empenhem aberta ou ocultamente em propaganda interna ou campanhas contra os EUA. E, na verdade, a maioria dos governos latino-americanos não contesta seriamente tal coisa.” [p. 95]
Da mesma forma que visitava o Presidente Goulart, para tentar interceder em sua forma de fazer política, Lincoln Gordon – a exemplo do tinha feito Berle em 1945/46 quando o General Dutra substituiria a outro petebista (Getúlio Vargas) no poder –, passeava livremente pelos círculos militares de alto escalão que preparariam o Movimento. O fato é que os liberais de Kennedy/Johnson, formuladores da política externa norte-americana para o Brasil, consideravam as medidas do Governo petebista como um certo ’excesso democrático’ que precisariam ser vencidos, pois tais excessos permitiriam a subversão. Assim, procurando atingir essa possível subversão, os formuladores da política externa norte-americana ‘jogavam com todas suas armas, não necessariamente democráticas, e atiravam para todos os lados’.
Os formuladores da política externa norte-americana não compreendiam (ou não queriam compreender) que, dado o contexto histórico do período, o capitalismo brasileiro, procurando incluir no processo de acumulação o maior número possível de pessoas, exigia ajustes profundos. “Goulart”, garante Navarro de Toledo, “era, tal como seus críticos de direita, um fiel defensor do capitalismo. No entanto, asseverava ele, sua diferença em relação a estes residia na sua aspiração a um capitalismo mais “humanizado” e “patriótico”; ou seja Jango dizia opor-se àquilo que hoje se convencionou chamar de capitalismo selvagem”. (p. 119) Na concepção do governo trabalhista brasileiro, tais ajustes deveriam passar pela inclusão de setores sociais até então significativamente excluídos do processo de desenvolvimento capitalista brasileiro. Dentro dos planos de Goulart, figuravam as ‘reformas de base’ que tinham como finalidade, segundo Parker, “controlar a inflação e manter o crescimento, enquanto eliminava os “pontos de estrangulamento” dentro do sistema, introduzindo medidas de reforma tributária e agrária. O plano projetava a manutenção de um alto nível de investimento público como elemento essencial para a continuação do crescimento econômico, o qual seria financiado por novos tributos impostos aos setores mais ricos e pela redução de subvenções governamentais das indústrias. (p. 55)
Seguindo o raciocínio de Parker, nos parece que o problema das reformas é que, dada sua agressividade, as mesmas requeriam financiamento, apoio econômico e político que adviria dos acordos selados pela Aliança para o Progresso, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, dominadas pelos EUA. Esse financiamento dificilmente poderia ser assegurado se não sob a promessa de que as orientações e determinações norte-americanas seriam seguidas. “Quando políticas esclarecidas de desenvolvimento social e econômico colidem com idéias mais facilmente aceitas de interesse próprio e segurança nacional, sugere Parker, as palavras e a ação divergem, ficando a ação do lado do interesse próprio.” (p. 129)
Os EUA incitavam a necessidade de dirigentes capazes de viabilizar o capitalismo no Brasil e na América Latina, como fica evidente nos escritos do diplomata americano, Adolf Augustus Berle, do início da década de 1960. A séria dúvida de Washington era se Goulart personificava o governante ideal que os EUA buscavam. Os EUA passam, então, a discordar de todo pensamento janguista. Os capitalistas brasileiros do período estavam por demais dependentes do Estado para viabilizar seus negócios e se mostravam pouco dispostos a correr riscos – o cerne da economia de mercado. Goulart, na percepção norte-americana, enquanto capitalista ele próprio, nada mais representava que o mais perfeito exemplo do capitalista latino-americano, que, paradoxalmente, poderia se apegar à ‘aventura vermelha’ quando não tivesse o Estado para auxiliá-lo.
Muito embora os princípios da Aliança para o Progresso reservasse a cada nação participante o direito de determinar seu próprio destino e suas próprias metas de desenvolvimento, o aval norte-americano ao Plano de Goulart estava condicionado à aceitação do Governo Trabalhista à imposição de nomes para os ministérios e outros cargos e, ao direcionamento da política e da economia brasileiras como um todo. Para brasileiros tais como o Superintendente da SUDENE, Celso Furtado, ou o Presidente Goulart, garante Parker, esse modelo intransigente era às vezes politicamente inexeqüível.”(p. 122) Sendo a assistência econômica um dos instrumentos mais importantes da política externa dos EUA, a política vigente de Washington no período, como sempre o fora, baseava-se em dar e suspender a assistência e de apoiar os grupos mais afinados com as metas da política oficial dos EUA. “Não há provas sugestivas”, garante Parker, “de que a assistência econômica dos EUA tenha causado a queda de Goulart. Há evidência de que a ajuda dos EUA enfraqueceu ainda mais um Governo central já fraco, não somente negando assistência ao Governo de Goulart – que os EUA achavam que não tinha capacidade ou condição para utilizar a ajuda de maneira responsável – mas também passando efetivamente por cima desse governo ao tratar diretamente com outros grupos, líderes e instituições do País, apoiando-os claramente, ao conceder freqüentemente essa assistência aos elementos da sociedade brasileira que finalmente derrubaram Goulart.” (p. 123)
Como parte do mind set histórico que rege a política externa norte-americana para a América Latina, os EUA, aliás, nunca se preocuparam em incluir as reivindicações dos latino-americanos em suas decisões. A perspectiva do diplomata Berle, de 1962, deixa evidente essa posição,
“Há algo de patético no clamor de alguns líderes latino-americanos de que, politicamente, eles devem ser “libertados” dos EUA, enquanto, ao mesmo tempo, confiam na cooperação econômica interamericana e admitem estabilização favorável de mercados e assistência econômica por parte dos EUA, de uma maneira e, escala desconhecida na história da humanidade, entre países independentes.” [Berle, 1962, p. 141]
Normalmente, os norte-americanos determinam, ‘de cima para baixo’, o que deve ser bom para os países do continente latino–americano e caribenhos. Chomsky radicaliza seu entendimento desse processo e assegura que, “O que os Estados Unidos querem é “estabilidade”, quer dizer, segurança para as “classes dominantes e liberdade para as empresas estrangeiras”. Se isso pode ser obtido com métodos democráticos formais, OK. Se não, a ameaça à “estabilidade” causada pelo bom exemplo tem de ser construída, antes que o vírus infecte os outros. É por isso que, mesmo se a menor partícula causar tal perigo, ela tem de ser esmagada”. (p. 32)
Ainda que não compartilhemos totalmente o sentimento de Chomsky neste ensaio, é possível verificar via seus escritos que os EUA tinham outros planos para o capitalismo do Brasil, que não caberiam dentro do nacional-reformismo de Goulart. Lyndon Johnson, Presidente norte-americano que assumira o poder com a morte de Kennedy, afirmara em 25 de março de 1964 (seis dias antes do Movimento) que “há nuvens sombrias pairando sobre os interesses econômicos dos EUA no Brasil” (Corrêa, p. 121). Entendendo as políticas de Goulart – a quem muito provavelmente o povo elegeria presidente nas eleições de 1965 (Corrêa, p. 123) – como uma afronta àquilo que sempre entendeu ser bom para si e, portanto, bom para a América Latina (o liberalismo econômico), os EUA auxiliariam ideológica, política e economicamente na instalação do que viria a ser uma ‘modernização conservadora’.
Em 31 de março de 1964 deu-se, finalmente, o desfecho do Movimento. O apoio norte-americano foi decisivo para o assassinato da democracia no país por quase trinta anos. “A queda de Goulart, garante Corrêa, não estava ainda consumada quando, no dia primeiro de abril, o Departamento de Estado anuncia à embaixada que o Governo norte-americano preparava um programa capaz de aliviar as pressões econômicas sob as quais se instalaria o novo Governo.” (p. 75).
A atitude norte-americana de apoio ao Movimento, não somente contribuiu na desagregação imediata da integridade do povo brasileiro como, em função da brutal repressão imposta pela ditadura militar, contribuiu significativamente para a despolitização dos nacionais por décadas, causando uma perda intelectual de proporções incalculáveis. Não tivessem os EUA apoiado o Movimento contra o governo constitucionalmente estabelecido de João Goulart, aquele país dificilmente se habilitaria a ter, 24 horas depois do ato de deposição, sinalizado com auxílio econômico ao Governo autoritário que se instalara.
Conclusão
“Basta de intermediários: para Presidente, Lincoln Gordon!”
Frase criada e difundida pelo humor popular no início dos anos 60
Dada sua formação e sua história, os formuladores da política externa dos EUA – país este que já possuía 50% da riqueza mundial à época do Movimento de 1964 no Brasil – acreditavam que a combinação e radicalização dos fatores, liberalismo econômico e democracia, criaria inevitavelmente sociedades mais fortes e livres. Isso já ficara evidenciado no esforço de Wilson , depois da Primeira Guerra Mundial, de promover ambos fatores mundo afora e em muitas outras oportunidades no decorrer da história americana no século XX. Os formuladores da política externa norte-americana perceberam, desde muito cedo, que os interesses nacionais norte-americanos poderiam ser alcançados de forma mais completa via a promoção da democracia planeta afora.
Com a América Latina isso, contudo, nem sempre foi regra. Ali, os interesses norte-americanos deveriam, como em outras localidades, ser protegidos, o diferencial para com a América Latina é que os EUA nem sempre acataram a democracia como a melhor forma de proteger seus interesses. Isso ficou evidencializado no governo de João Goulart, no Brasil. Outros fatores que não seus interesses econômicos influenciaram Washington na oposição cerrada a este Governo até sua desestabilização. A questão da segurança interna poderia ter sido este fator, mas Washington poderia da mesma forma, ter optado por contemplar Goulart como aliado (ou outras alternativas), e não o fizeram; o preferiram como inimigo.
A política de diminuição paulatina dos fluxos financeiros norte-americanos objetivando desestabilizar o governo de Goulart, se mostrou bastante eficiente para os formuladores da política externa dos EUA. À época, o objetivo inicial desses funcionários, muito provavelmente, não era o de criar condições para que os militares tomassem o poder. Sua intenção era que outros segmentos o fizessem – segmentos que melhor representassem as expectativas de Washington que os Trabalhistas de Goulart. Não obstante, dado o contexto histórico do período e a formação dos funcionários de Estado norte-americanos, os EUA não se preocuparam em procurar outro caminho senão apoiar a alternativa antidemocrática. Como conseqüência, ao contrário de muitos países latino-americanos, seria a primeira vez, em sua história, que o povo brasileiro se veria sob a tirania de uma ditadura militar.
Se não é falso afirmar que a campanha pela deposição do presidente João Goulart suscitou um grande movimento de massas e que o Movimento Militar de 1964 no Brasil foi possibilitado, a rigor, pelo anseio dos segmentos conservadores nacionais de fazê-lo, não é menos verdadeiro dizer que o apoio dos EUA ao Movimento foi seu guião-mor de sustentação ideológica, conferindo a este uma sensação de legitimidade. O elemento-chave que entremeou a decisão norte-americana em apoiá-lo, por sua vez, foi o preconceito; o mind set secularmente arraigado na concepção de mundo dos funcionários de estado norte-americanos que os faz enxergar nos latino-americanos uma certa ‘estupidez natural’, uma característica intrínseca a estes e que não lhes permitiria cuidarem-se sozinhos. Na mente dos formuladores da política externa norte-americana vige o sentimento de que os latino-americanos precisam da tutela dos EUA para orientar cada um de seus passos. Alicerçada num mind set inflexível que já dura dois séculos, tal concepção representou o embasamento máximo para tal apoio.
A essência do apoio norte americano ao Movimento militar de 1964 no Brasil está no fato de os EUA não permitirem que no território onde a Doutrina Monroe estabelecera os “do’s and don’t’s”, uma ideologia nacionalista, ‘inferior, latina e católica’ se estabelecesse, afrontando seu poder ‘hegemônico, saxão e protestante’. O pensamento resultante desse mind set, aliado à concepção de mundo dos extratos nacionais mais reacionários e outros, obstaculizou, através do estrangulamento do sonho de justiça social e de liberdade de algumas gerações de brasileiros, o fortalecimento da modernidade brasileira por quase trinta anos.