Logo nas primeiras décadas do século XX, alguns pensadores mais iluminados foram capazes de entender a essência da sociedade brasileira e buscaram fórmulas, as mais diversas, para livrar esta sociedade do que entenderam ser seus males maiores. Essa elite em nada se parecia com seus correligionários de um século atrás que deram inicio à formação do Estado brasileiro, exceto por seu caráter eminentemente antidemocrata. Em sua obsessão pela superação da modernidade ausente brasileira, ela jogará na lata de lixo da história a primeira oportunidade real de transformação da sociedade brasileira, no que concerne ao caráter antidemocrata com que as elites anteriores haviam presenteado o jovem país.
Por toda sua existência intelectual e engajamento político, os dois mais ativos e orgânicos intelectuais do Estado Novo, Oliveira Vianna e Azevedo Amaral, e o anti-Estado Novo, Nestor Duarte, tinham em comum uma grande angústia pela necessidade de implantação de uma agenda modernizadora no país. Angustiante também era a árdua tarefa de tentar compreender o Brasil que se apresentava e de encontrar uma forma de promoção da unidade nacional. A convicção e diagnósticos dos dois primeiros gravitaram sempre na crença de que tal agenda exigia a organização e a unificação nacionais, sob a égide de um poder centralizado que reestruturasse a dimensão pública no país e procurasse garantir o futuro de nossas particularidades. O segundo, por sua vez, pregava a construção do Estado sob a tutela popular.
Vianna propunha-nos restaurarmos os elementos positivos de nossa formação, ou seja, os traços culturais e étnicos portugueses que se identificam com o Estado forte, absolutista, para que pudéssemos expurgar a tendência à anarquia, típica das sociedades ‘ditas liberais’. O diagnóstico de Vianna, comum a Azevedo Amaral, intentava conduzir o país à formas mais elevadas de Estado e sociedade, via a aquisição de estágios culturais superiores.
Os mentores do Estado Novo vão denunciar o sistema político brasileiro e julgá-lo falido. A construção de uma sociedade liberal passaria, necessariamente, pela construção primeira de um sistema político autoritário, que desarticulasse o clientelismo e varresse as práticas políticas das oligarquias liberais em conluio com os administradores de plantão. O pensador propunha o fortalecimento do aparelho estatal e a manutenção deste fora da política e da economia, ou seja, sua burocratização absoluta. Vianna acreditava ser esta uma forma de evitar que o mesmo fosse manipulado em favor de facções políticas paternalistas e passasse a operar no sistema de méritos e, com ele, deveria haver toda uma reformulação do sistema eleitoral.
Essa elite, mais explicitamente Oliveira Vianna, parte do pressuposto máximo de que o sentimento ou consciência de um interesse ou de uma finalidade nacional é condição sine qua non para o perfeito funcionamento de qualquer sistema de Estado Democrático. Todas as demais condições que regulam o funcionamento deste regime derivam, pois, deste pressuposto fundamental. No caso da Revolução Francesa, as massas que se deliciaram com o poder após a queda da Bastilha, não tinham ainda se banhado com o sentimento nacional – de rés publica, dos romanos – antes de realizar a sangria. O caso inglês e saxão em geral, por sua vez, se revelara oposto ao caso francês. Ali, as massas estavam suficientemente maduras para tomar em suas mãos o poder. A consciência nacional já estava, por demais, sedimentada. Seria, pois, a ação do Estado que pode garantir às massas desorganizadas a aquisição do sentimento nacional.
Dado tal pressuposto, o objetivo geral de Oliveira Vianna é demonstrar que no Brasil, seguiu-se o modelo francês de organização política, o que teria contribuído enormemente para a constituição de instituições sociais que dispensam a intermediação do Estado e privilegiam as relações pessoais, tais como, a oligarquia; o coronelismo, etc. Como compensação à falta de argumentação ao seu pressuposto inicial, Oliveira Vianna parece querer assumir que, se a ocorrência de instituições semelhantes não se revelara na própria França, é porque as condições históricas daquele país, naquele dado momento, não o permitiram. No Brasil, ao contrário, essas condições históricas estavam por demais estabelecidas desde há muito.
Apesar de traços marcantes da maioria dessas instituições já se apresentarem no período colonial, será, segundo o autor, no processo de passagem da colônia ao Estado Brasileiro que ele se revelará consistente e prolongar-se-á por toda a fase do Império, atingindo em cheio a República. Oliveira Vianna insiste na tese de que o responsável por tal estado de coisas se deve à maneira como nasceu o Estado Brasileiro, ou seja, sem a consolidação primeira de um sentimento nacional. Este sentimento aqui teria dado lugar ao que o autor denomina de “usos e costumes”.
A prática dos usos e costumes não é por si só negativa; é dela que pode derivar o avanço dos direitos civis, políticos e sociais. Há, entretanto, segundo o autor, uma tendência nos povos que seguem por este caminho a sofrer determinadas agruras que se revelam segundo condições específicas. Regularmente no Brasil, ele tem servido exatamente para obstaculizar o avanço dos direitos. Oliveira Vianna assinala que, em casos como o brasileiro, esses usos e costumes, determinam as relações sociais de praticamente todos os segmentos de uma dada sociedade, não deixando espaço para a criação do sentimento nacional. Eles, entretanto, não se tratam de criações improvisadas e individualizadas, saídas de umas poucas cabeças. Formam-se lentamente no decorrer histórico e impregnam-se no consciente coletivo, tornando-se parte intrínseca da cultura de uma dada sociedade.
Na perspectiva de Oliveira Vianna, as instituições no Brasil teriam, pois, se formado dentro desse quadro de ausência do sentimento nacional e presença absoluta dos usos e costumes. Seria esse, pois, o caso dos partidos políticos, sobretudo os imperiais – os partidos dos chefes municipais, os partidos dos coronéis, etc. A questão seria histórica, pois, as relações sociais dos mais de trezentos anos de colônia, onde o chefe local do clã (feudal) reinava absoluto, não haviam sido rompidos com o advento da Independência. Num Brasil majoritariamente rural, os chefes locais, chefes de seus clãs, teriam encarnado até mesmo o próprio Estado para a solução de problemas institucionais.
Passados cento e trinta anos, desde a Independência até o período em que o autor escreveria seu último trabalho (1951), a relação de usos e costumes da colônia, do onipotente Senhor com seus subordinados, em pouco se alterara. Se a sociedade brasileira de 1822 era dispersa, incoesa e de estrutura oligárquica, a de 1951 parecia guardar traços marcantes dessa cultura. Daí a indignação do autor – já presente anteriormente em Azevedo Amaral –, o que o faz imaginar caminhos alternativos para a solução do problema dos usos e costumes e a criação, afinal, do sentimento nacional, sem a qual, segundo ele, não se tem Estado Nacional consolidado.
O grande obstáculo ao desenvolvimento desse sentimento de nacionalidade, crê o autor, remonta 1824 quando, no temor das elites nacionais quanto a uma eventual resistência das camadas menos abastadas ao processo de independência, se garantiu o sufrágio universal pouco restrito. A partir dali, o povo-massa, que mal sabia o que se passava, passou a participar da vida pública e a valer como força numérica, cabendo aos chefes locais organizá-lo como tal para fins eleitorais. A força agregadora permanecia sendo a autoridade do senhor de engenho. Os mandonismos locais, agora traduzidos na pessoa do chefe político local, teriam se aproveitado dessa brecha para fazer permanecer intacta a relação de dependência de seus subalternos para consigo. A criação do sentimento nacional passaria, pois, pela negação do sufrágio universal e um conseqüente enfraquecimento do poder de Estado dos chefes dos clãs locais.
Seguindo a mesma linha de raciocínio de Vianna está Azevedo Amaral, um dos mais consistentes dentre os intelectuais que procuraram formular diretrizes práticas para o Estado Novo. O pensador não se furtou em analisar a sociedade brasileira sob a ótica do racismo e do autoritarismo. Escreveu, mais de uma vez, que dependia o futuro da nacionalidade o número de imigrantes de raça branca que assimilássemos nos próximos decênios. Na obra deste, que foi o maior ideólogo do Estado Novo, fica evidente sua ansiedade para que o Brasil supere o estágio de uma ‘civilização inferior’, que ao longo de toda nossa história foi sempre marcada pela importação de modelos exóticos, estranhos a nossa “ambiência nacional” e que sempre comprometeram nossa ‘plasmagem social’. O ‘golpe de 10 novembro’, ou ‘Revolução’ como queria Amaral, representara para este pensador um caminho para a consolidação definitiva no país de um projeto nacional consistente, vigoroso e capaz de manter a harmonia social e política.
Com crescimento econômico, agora focado no pleno desenvolvimento da forças do capitalismo moderno, no que, a industrialização era o melhor reflexo, abria-se a oportunidade de se apressar o curso natural da história brasileira, de a sociedade desvencilhar-se dos impedimentos que retardavam seu desenvolvimento, seu progresso, numa palavra, a modernidade do país. A Constituição e o regime implantados a partir de 1937, que coroam sua postura intelectual, será, na sua concepção, a superação de todos nossos equívocos históricos.
Em direção similar, Oliveira Vianna – defendendo uma espécie de ‘autoritarismo instrumental’, ou seja, um Estado autoritário passageiro – argumenta que o sistema eleitoral que se tinham implantado primeiramente no Brasil, a partir de 1822, e também o subseqüente, não tinham quaisquer origens democráticas, pois não provinha da vontade do povo, de cidadãos, mas, ao contrário, derivava da propriedade da terra – do direito colonial da sesmaria ou do latifúndio. Pela forma cultural como educado e como evoluiu o povo – desprovido de sentimento nacional e preso a relações de respeito absoluto a chefes locais onipotentes – o sufrágio, pois, deveria ter sido negado ao povo até que esse pudesse compreender a passagem da colônia, em que estiveram envolvidos até 1822, para o regime democrático do Estado-Nação, em que penetravam de súbito.
A insistência pela via democrática, no Brasil, tratava-se, pois, de um engodo histórico. O espírito de clã, estabelecido no Brasil desde os mais remotos tempos coloniais, obstaculizaria as melhores intenções democráticas (reduzido aqui ao sufrágio universal), dando margem a oportunismos de plantão. O povo não somente não estava a altura desse sufrágio universal, como não pedira tanto, desde a Constituição Liberal de 1824. Somente a ação política do Estado, através da formação do cidadão – leia-se, trabalhador urbano cooptado –, seria capaz de impedir a perpetuação das relações oligárquicas de clã. A democracia, ao contrário, somente faria recrudescer essas relações perversas.
Oliveira Vianna segue na esteira de Azevedo Amaral para quem seria um equívoco utilizar os modelos inglês ou francês como referência para consolidação política da sociedade brasileira. A constituição histórica e social os proprietários rurais brasileiros é substancialmente diferente da burguesia inglesa e francesa, assim como o próprio processo de colonização que caracterizou os EUA. Todas as tentativas de entender ou interpretar o Brasil, partindo de uma abordagem histórica nesse sentido, comprometiam o desenvolvimento de uma futura e bem elaborada política de plasmagem nacional. Cabe lembrar que nos países citados a democracia era indubitavelmente o sistema reinante.
Oliveira Vianna argumenta ainda que o sufrágio universal inglês havia sido sempre um privilégio, só accessível aos cidadãos capazes, que possuíam certas condições de status e renda. No caso do Brasil de 1824, esse direito tinha sido estendido a praticamente todo cidadão livre. No primeiro caso, o cidadão tinha de mostrar sua capacidade para exercer tal direito, enquanto aqui, não havia pré-requisitos, era aberto a todos os homens. O que as elites brasileiras defensoras da implantação desse sistema no país não compreendiam, é que nos cento e vinte anos de ‘regime democrático’ vigente até então, o povo brasileiro não tinha formado uma tradição democrática. Daí, os contrastantes tipos de sociedades que se construíram lá e aqui. Azevedo Amaral, aliás, já intertextualizara com Oliveira Vianna ao defender a idéia de que a história de qualquer nação nada mais é do que uma revisão dos vários acertos e insucessos que constituem os elementos básicos para possíveis questionamentos e/ou revisões, necessitando, portanto de um longo período para se obter uma estrutura mais harmoniosa possível considerando-se as realidades que a cercam.
Ambos os autores são críticos reincidentes da importação de modelos políticos administrativos que não levam em conta as particularidades tanto do processo histórico de formação dos países, como também dos elementos culturais que são constitutivos de cada povo, embora reconheçam que não é possível o isolamento total das civilizações, exceto em casos excepcionais. No caso de Amaral – que manifesta sua adesão ideológica ao projeto político instituído por Vargas –, sua abordagem, neste sentido, procura revelar a sintonia entre sua produção e o novo estatuto nacional instituído a partir de 1937, com a instalação do Estado Novo. Amaral e Oliveira Vianna, desconsiderada as diferenças de caráter pragmático, estavam convictos de que ali realizar-se-ia a possibilidade histórica de se consolidar a fusão do Estado com a Nação, resgatando o verdadeiro sentido da política e garantido a unidade nacional e a efetiva representação do povo.
Em consonância absoluta com um período em que o Estado extraíra os direitos políticos da população em troca de direitos sociais, a obra desses dois pensadores da organização do Estado, pressupõe que o brasileiro espera do governo o respeito por seus direitos civis, como a liberdade, pouco importando a ele certos direitos políticos – o que não é o caso de Nestor Duarte, um importante pensador do período que, por se opor ao autoritarismo de seus predecessores, foi voz vencida. O governo estaria, assim, encarregado de garantir esses direitos civis ao povo, protegendo-o contra os desmandos dos chefes locais.
De acordo com o raciocínio de Oliveira Vianna e Azevedo Amaral, a democracia reinante no país até o final da década de vinte, trabalhava, pois, no sentido contrário. Ela estava a serviço desses chefes locais, os quais a usavam não para garantir as liberdades individuais do povo, mas para manipulá-lo segundo seus próprios interesses. Esse não era o caso inglês, onde a exaustiva prática das liberdades individuais, civis, gerara uma democracia que tinha como função básica a garantia dessas liberdades. Este é o sentido do autoritarismo instrumental desses dois autores. No Brasil se quis começar por uma inversão, colocando as liberdades políticas à frente das civis. Daí sua justificativa pela via autoritária até que se ‘educasse o povo’.
Refletindo um forte menosprezo pelas práticas políticas da Primeira República e um grande apreço pelas iniciativas tutelares Varguistas, as obras de Oliveira Vianna e Azevedo Amaral terminam por concluir que quaisquer reformas das instituições políticas no Brasil deveriam, pois, levar em consideração a realidade cultural de seu povo. Tratava-se, segundo os autores, de um povo que se comportava em perfeita concordância com seu passado histórico. Àquele povo seria necessário dar a oportunidade de aprender, num processo pedagógico administrado pelo Estado, como utilizar esse instrumento democrático para garantir suas próprias liberdades civis. Somente esse procedimento poderia fazer florescer na consciência do povo-massa o indispensável sentimento nacional, tão fundamental na construção de uma sociedade democrática e da cidadania como um todo.
As obras, produtos históricos de seu tempo – que criaram as bases para a implantação do Estado Novo –, tratavam-se, em verdade, de um excelente convite à sociedade civil para transferir ao Estado sua relação clientelista centenária com os chefes dos clãs que lhes permeavam as liberdades civis e lhes impediam de desenvolver uma consciência nacional plena. Elas se propõem desenvolver teses que fundamentem a política nacionalista, cooptadora, autoritária e tutelar do primeiro Governo Vargas. O resultado da proposta política daquele governo parece ter se revelado como a materialização das teses de Azevedo Amaral e Oliveira Vianna.
Por outro lado, como bom ideólogo e defensor da modernização por vias não autoritárias, Nestor Duarte também se angustia frente à tarefa de entender o Brasil, sobretudo ao comparar a ordem privada e a pública no País e constatar que há um predomínio absoluto da primeira sobre a segunda. Similarmente aos seus colegas autoritários, entende que o problema central do País é a ausência de Estado. A criação deste, no entanto, deveria priorizar suas dimensões política e pública, condição sine qua non para o ingresso daquele na modernidade. Nestor Duarte, destarte, vive uma situação de ambigüidade, pois, se por um lado doutrina em favor da criação do Estado, por outro, suspeita da capacidade disseminadora da abstração, da impessoalidade, num país tão profundamente marcado pelo predomínio geral da esfera das relações privadas. Ele não vê, pois, horizontes promissores, apesar de constatar mudanças significativas no processo de modernização do país a partir da segunda década do século passado.
Numa análise de nossas raízes históricas, Duarte averigua nosso caráter e ratifica sua hipótese quanto a nossa tendência a certo privatismo, nossa “desnecessidade” do Estado, cujas relações não conhecem outra esfera senão de ordem privada. Como extensão, a exemplo de seus colegas autoritários, diagnostica que, naquele momento, inexiste o povo brasileiro, mas um amontoado de gente, uma massa desorganizada e fadada ao caos político, a permanecer como está, caso a criação do Estado seja postergada.
Determinista por opção, Duarte sugere que, para evitar esse ‘destino’, precisamos inventar, racional e abstratamente, o Estado. O autor argumenta que este, o Estado, deve revelar-se a dimensão pública, para que ele crie o “povo” político, eduque-o para o sentido público e estatal, reforme a sociedade, preparando-a para a política. Isso tudo em conformidade com as aspirações, costumes e sentimentos próprios do indivíduo brasileiro. A exemplo de Oliveira Vianna e Azevedo Amaral, Nestor Duarte rechaça, assim, as ‘fórmulas prontas importadas’, mas, contrariamente àqueles, também o autoritarismo, que se apresentava como remédio para muitos dos males da sociedade nacional.
No pensamento de Duarte encontra-se fixa a crença de que nosso ‘caráter privatista’ é marca profunda deixada pelo português. Povo que privilegia, por essência, os laços de família, comunais, privados, dando vazão a um “individualismo de natureza anárquica” (P. 4), resistira sempre à unificação precoce do Estado português e dotara de grande poder os municípios, autônomos e possuidores de leis próprias, contrários à centralização e à Nação. Não bastasse, o ruralismo centrado na unidade familiar proprietária estruturara todo o direito português e sua organização política, considerando ser o Estado nascido da família; um paradoxo para Duarte, vista ser esta a antítese daquele. Daí ser o português hostil à ordem política e ao assimentalismo do Estado, sentindo-se sufocado com ela, mas à vontade em ordens fragmentadas e descentralizadas na ordem privada.
A incompatibilidade entre família e Estado, em Duarte, é gigantesca. O autor enxerga a extração das propriedades essenciais do Estado quando a família o atinge, desfigurando-o, impossibilitando mesmo o estabelecimento de uma ordem racional (burguesa). Essa desconfiguração divide-se basicamente em dois grupos intrinsecamente ligados: clientelismo e nepotismo. Nesse processo, o Estado que dali emerge, transfere suas funções para as mãos do Senhor, não desempenhando outra função que não a de cobrador de impostos. Ele não se importa com a disseminação do ‘espírito público’, da constituição do ‘povo político’, ou seja, da criação de uma coletividade que tenha objetivos comuns, que rompa com os vícios do privatismo, com o espírito público fraco, característico de nosso povo.
Nascidos originalmente do sistema de capitanias que se operaram no Brasil, via o desejo anti-estatista luso, esses dois elementos teriam retardado o processo de modernização do país. Seriam elas, as capitanias, que teriam fortalecido o espaço privado, refratário à ordem pública, ao assumir o comando da ocupação, da exploração e do povoamento do território, à margem do poder geral, ou mesmo por sobre este, que deveria subordiná-las, mas acaba a elas se sujeitando.
A exemplo do que fizera Oliveira Vianna, Duarte atribui ao descomprometimento do colonizador de origem português os muitos males da sociedade brasileira. Entretanto, ao contrário daquele, Duarte vê com maus olhos a atuação dos bandeirantes no Brasil. Segundo ele, uma combinação maléfica do senhor de engenho, sedentário e ‘aventureiro’ por natureza, com o bandeirante, nômade e não menos aventureiro, resultou nos tipos básicos da obra colonizadora, irredutíveis à ordem pública. Muito mais evidente na tarefa do segundo que do primeiro, em função da fraqueza e da ineficiência do Estado português que os gerou, trata-se de categorias sociais que prezam pelo empreendimento privado anárquico, longe de controle judicial. Dali nasce o latifúndio, o isolamento e o desapego, quando não o desdém, pela coisa pública. A organização social à qual se assiste é, desde muito cedo, desejo do particular, individualista, desprovida de uma ‘lei geral’. Senão é desorganizada, a sociedade que dessa realidade floresce, é anárquica, pois carece de organização formal, de espírito de coletividade. Que há solidez em sua base não há dúvidas, mas ela é fundamentalmente privada.
Voz dissonante e vencida no período estudado, Duarte acredita que Estado forte não significa Estado autoritário. Ele é crítico duro do Estado Novo. Carecíamos de um Estado potencializador na população de sentimentos públicos, pensava Duarte, pois aqui os homens não eram repúblicos. Aqui, havia governos, onde os mesmo eram permanentemente confundidos com a pessoa do governante, mas não havia Estado. As massas e as classes abastadas teriam sempre se bastado com a ordem privada, não precisando do Estado como instrumento diretor do desenvolvimento social, mas os tempos eram outros e a aceleração da modernidade fazia da presença desse Estado uma exigência máxima, imprescindível.
Seja na forma do autoritarismo proposto Por Oliveira Vianna e Azevedo Amaral ou de formas mais democráticas pensadas por Nestor Duarte, o saldo positivo da obra desses pensadores, possibilitado tão somente com o advento da Revolução de 1930, é que se vai tentar uma mobilização do povo a partir do Estado, fato inédito no Brasil. Essa mobilização fora inexistente até então. Se a arrogância nobiliária Imperial jamais enxergara no povo um elemento decisivo no forjamento de uma nação forte, a República, com seus hábitos velhos e práticas viciadas, somente ratificara a crença imperial de que o povo nada mais significa que um detalhe incômodo. O povo provavelmente passa a ser, com a Revolução, o elemento mais importante e à ele, ainda que sob a forma de cooptação e aliciamento, será dada especial atenção. Os homens que pensaram a Revolução perceberam, desde cedo, o caráter informal que os dirigentes do país tinham imprimido às massas ao longo dos anos, sobretudo os representantes da oligarquia cafeeira, ditos liberais. Fazia-se necessário proteger essas massas contra os abusos do liberalismo particular que se implantara havia muito no Brasil, convidando-as a forjar uma nação inclusiva, e a estratégia para tal parecia passar por um choque de Estado.
Os grupos que tomam o poder a partir desse período pensam não somente na construção da nação, mas no forjamento de um homem brasileiro, inexistente até então. Diziam eles abertamente que se fazia necessário “elevar” o nível cultural e educacional das camadas populares, de forma que estas não fossem facilmente tragadas pelo aliciamento do coronelismo liberal. Aquelas elites perceberam perfeitamente o que se passara historicamente nas relações sociais brasileiras. Daí sua preocupação em forjar a nação como forma de livrar o país dos males que vinha apresentando e construir um povo formal, que prezasse pelas coisas do Estado. Por isso o Estado precisava ser forte, para guiar o povo na construção de sua cidadania.
Longe de estar na constituição do povo brasileiro as origens de seus males políticos, se encontra na permanência dos clãs políticos, traduzidos no eterno casuísmo da classe política nacional frente às necessidades da sociedade civil, o infortúnio da gente nacional. A solução do imbróglio, não obstante – ao contrário do que imaginava Amaral e Vianna e oscilava a dubiedade de Duarte –, passa fundamentalmente, por um ‘choque de democracia’, realizado não a partir do Estado, mas por instâncias superiores advindas do seio da sociedade civil. A criação de um Estado que crie tais condições, entrementes, é, sim, condição sine qua non para a construção, ainda que tardia, de ‘um povo brasileiro’.
Em que pese as especificidades de cada época, a atualidade de Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Nestor Duarte e o Brasil do século XXI está justamente na busca de um Estado que possa efetivamente forjar a nação e criar as condições para elevar as massas à condição de povo, tarefa esta que parece querer dar os primeiros passos no início do novo milênio.
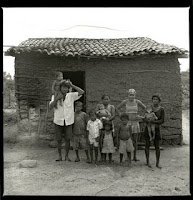

Nenhum comentário:
Postar um comentário